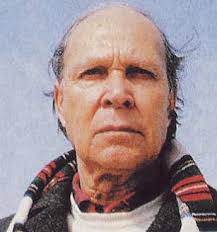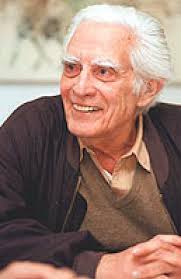[424] - Seria, no mínimo, herético, eu acrescentar uma vírgula que fosse à brilhante peça de Vasco Pulido Valente que li ontem no Público.
Mas é que tenho andado aqui a «moer» sobre se deveria escrever alguma coisa sobre a morte de Cunhal (Vasco Gonçalves, para mim um caso patológico, não me mereceu sequer qualquer reflexão), perante a abundância de textos, comentários e opiniões acerca do homem das convicções e da coerência. E o texto de VPV, uma peça brilhante, repito-o, diz tudo, para quem o souber ler.
Apetecia-me acrescentar alguma coisa que resultou da minha vivência directa com um par de regimes sovietizados, mas isso torna-se absolutamente «palha» perante a enorme capacidade de VPV desmistificar aquilo que considerei o maior «embuste» que me foi dado viver. Cito:
Crescer com "o Álvaro"por Vasco Pulido Valente
Público, 14 Junho 2005
Morreu ontem, esquecido e trivializado, Álvaro Cunhal. A gente que o demonizava, e com toda a razão, em 1975, há quinze anos que lhe tinha perdido o medo e o respeito. A partir de 1990, o Partido Comunista passou a ser um resto, quase um monumento, na Assembleia da República; e a insistência no "marxismo-leninismo", tal como o definia a União Soviética, começou a criar ao "homem que não mudava" uma aura de fidelidade e "nobreza", que era sobretudo um protesto contra o oportunismo corrente. Apareceu então um novo Cunhal. O Cunhal que a esquerda ignorava e que a direita, uma certa direita, tratava com o desprezo amável normalmente reservado a "inferiores": o Cunhal da impotência. Em 1991, segui a última campanha dele e percebi com espanto que também o "partido" o queria proteger do abandono e da tristeza: no fundo, da realidade. No Seixal, por exemplo, uma senhora com o seu melhor vestido e um penteado de cabeleireiro, tremia com a hipótese de uma mau resultado: um mau resultado "dava ao Álvaro um enorme desgosto". Depois disso, "o Álvaro", velho e doente, deixou de se mostrar em público. Pouco a pouco, a ausência fez dele, ainda vivo, uma figura histórica. Pior: uma parte curiosa e comercial do folclore indígena. O Até Amanhã, Camaradas! da SIC, por exemplo, asséptico e politicamente inócuo, com um terrível "bom gosto" de "estilista", transformou a grande epopeia do PC numa aventura sem significado, relevância ou grandeza. Se Cunhal a viu, e com certeza que não viu, deve ter chorado sobre aquele epitáfio.
Em 1949 ou 50, quando pela primeira vez me falaram dele com emoção ou, mais precisamente, com devoção, "o Álvaro" estava preso. Tanto o meu pai como a minha mãe o conheciam. A minha mãe trabalhara com ele no obrigatório inquérito a um "bairro de lata", com que na altura o progressismo (mesmo católico) iniciava os seus prosélitos. O meu pai durante um tempo recebera e distribuíra dinheiro do "partido" (um exercício particularmente perigoso). Quando o meu pai foi dirigir uma "fábrica" de catorze operários numa aldeia ao pé do Porto, ia às vezes buscar umas pessoas, que entravam lá em a casa à noite, não comiam à mesa e nunca saíam do quarto. Um casal, constituído, como depois vim a saber, por um marinheiro bêbado (um "arsenalista") e por uma "companheira que ele espancava", chegou a alertar a vizinhança. Por mim, sem perceber nada (nem sequer o suficiente para perguntar) percebia pelo menos que a presença destes visitantes pesava. De medo, suponho hoje. Cresci com este mistério e só mais tarde, já em Lisboa, me explicaram. É difícil reconstituir o fervor com que se falava do "partido" e do "Álvaro". Pelo que me disseram, fiquei a imaginar que existia em Portugal uma legião de justos que lutavam e sofriam pelo povo e, acima deles, muito acima, um mártir, "o Álvaro", algures numa cela incandescente.
O nome, "o Álvaro", exigia sempre um tom litúrgico. O que me contaram sobre ele roçava a hagiografia: o sacrifício, a traição, a tortura, a cela de Peniche. E também a inteligência, o talento, a coragem, a entrega ao "partido" e, através do "partido", ao proletariado e à felicidade humana. Isto impressionava, até por ser absolutamente sincero. Além disso, o mundo do PC e dos "companheiros de caminho" era um mundo fechado. Os meus pais não tinham amigos fora dele, coisa que de resto o "controleiro" proibia, e, se por acaso arranjavam algum, o "controleiro" mandava logo "cortar". Os livros que eles liam, e que naturalmente também li, vinham todos da lista aprovada pela ortodoxia estalinista: Gorki, claro, Sholokhov, Jorge Amado, Panait Istrati, Steinbeck (As Vinhas da Ira), Dos Passos, Martin du Gard, Romain Rolland, Malraux (A Condição Humana), Aragon, Éluard, Neruda. E também a tralha do costume: romancistas do Azerbaijão, italianos ignotos, pacifistas (Barbusse, por exemplo), a colecção Cosmos (completa), a Vértice, propaganda sobre a guerra de Espanha ou sobre os julgamentos de Moscovo (um enorme calhamaço com um título inesquecível: A Grande Conspiração contra a Paz) e o inevitável opus de Sidney e Beatrice Webb O Comunismo Ssoviético: uma nova civilização. Portugueses, que me lembre, poucos: Soeiro, Redol, Gomes Ferreira. Suspeito que raramente uma criança foi educada com tão má literatura e tanta mentira.
O "partido" exigia aos "militantes" uma "vida modesta" e virtuosa. Era o tempo em que o Avante!, para exibir o precipício moral dos "dissidentes", contava que eles frequentavam o Casino do Estoril de charuto na boca, com as mulheres "cobertas de jóias", e acabavam a noite em "deboches" por "palácios de banqueiros". Não se conseguia imaginar depravação maior. Os comunistas, por contraste deviam pelo menos simbolicamente partilhar a miséria do "povo". Os meus pais gastavam, de facto, muito pouco dinheiro. Quase não saíam, nunca viajavam, usavam a roupa até ao extremo da decência. Ao princípio, por necessidade. Mas, depois, por escolha, por uma espécie de penitência ou de pedantismo, que, de resto, me faziam notar e me obrigaram eventualmente a seguir. Muitas vezes ouvi de amigos deles: "Os teus pais vivem com muito menos do que podem." Um exemplo que me criava obrigações. Esta superioridade dos comunistas incluía os costumes. O ateísmo e a defesa do divórcio não impediam os meus pais de "cortar" com os "militantes" que se divorciavam e de se agitarem com horror à mais vaga suspeita de adultério. As mulheres que se "portavam mal" inspiravam um grande falatório e sessões de crítica em que se discutiam os sinais da queda: normalmente excessos de bâton e pó-de-arroz, vestidos, chapéus, sapatos de salto alto ou casacos de peles, quando o caso não chegava ao cúmulo das jóias, que se aproximava da traição. Aqui, como no resto, o "partido" precisava de uma disciplina dura e de segregar aqueles que por qualquer razão o punham em risco, fazendo entrar nele a desordem e as tentações da "burguesia", ou seja, de uma existência vagamente normal.
O próprio "partido" organizava os prazeres "puros" dos fiéis. Passeios no Tejo, para adultos; e piqueniques com as crianças, em que se cantava o "Não fiques para trás, ó companheiro..." e o "Terra pátria, serás nossa..." do Cancioneiro Popular Português de Lopes-Graça. Irregularmente, havia também sessões (vigiadas pela PIDE) da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, de que a minha mãe era presidente, com coro da Academia dos Amadores de Música (do fatal Lopes-Graça) e atracções várias, como o poema de Sidónio Muralha Grilos, Grilinhos e Grilões, recitado por mim. Mas, sobretudo, os meus pais reuniam-se uma vez por semana com meia-dúzia de amigos para falar de arte e de política, sob a direcção informal de um "camarada mais ligado" (ligado com o "controleiro"). Aí ficavam a saber o que lhes convinha e, literalmente, tiravam dúvidas.
Este edifício da "legalidade" servia essencialmente para sustentar o edifício da "clandestinidade". Os meus pais tinham "tarefas". Já disse que o meu pai recebia e distribuía dinheiro do "partido" e, com o carro da empresa, transportava também "funcionários" de um lado para o outro, durante a noite, com "contactos" duvidosos que muitas vezes falhavam e o deixavam abatido e nervoso. Anos mais tarde, acabou por me descrever essa espécie de "encontros" no meio de sítio nenhum (num cruzamento de estradas, no quilómetro x da estrada y) com gente que raramente conhecia e que largava depois, sem quase uma palavra, num descampado igual. Apesar do medo, o que o impressionava era a insuportável tristeza daquelas viagens da desolação para a desolação.
A principal tarefa da minha mãe era à superfície mais simpática. Levava ao médico filhos de "funcionários", como se fossem dela, ou levava aos "funcionários" um médico "amigo", ou seja, cúmplice ou "companheiro de caminho". Os conhecimentos do pai (o meu avô Pulido Valente) simplificavam as coisas. Mas, numa crise, e principalmente com crianças não eram poucas, começavam as complicações: telefonemas, correrias, visitas sem aviso, que iam inevitavelmente contra as regras de segurança e provocavam inquietações. Felizmente, aquele "ponto de apoio" durou anos sem acidente de maior. Para mim, foi uma iniciação e, como o resto, deixou um (péssimo) vinco.
Entretanto, o mundo ia mudando. Lá fora a grande esperança revolucionária morria em França e em Itália e a direita expulsava os comunistas do poder. Na Alemanha ocupada, a América resistia à URSS e conseguia transformar a Tri-Zona num Estado democrático, a República Federal. As potências do Ocidente não tocavam em Franco e Salazar e criavam a NATO. Cá dentro, depois da febre do MUD, do MUD juvenil e da campanha presidencial de Norton de Matos, a oposição caía na sua habitual tristeza. Mesmo dentro da oposição, a eterna estratégia do "partido" de monopolizar e dominar tudo tinha deixado ressentimentos, que não passariam tão cedo. Mais grave do que isso, com a relativa normalidade do pós-guerra, começou a chegar, ou a ser finalmente ouvida, alguma evidência séria sobre o "campo comunista". Na estante do meu pai apareceram Victor Serge, Koestler e o velho Retour de l"URSS de Gide. Kravchenko, se causou um escândalo, também causou um abalo. Mas, principalmente, e porque se tratava da família de que se tratava, o apoio oficial de Estaline à "teoria" biológica de Lyssenko fez perceber para que extremos podia deslizar a ortodoxia: segundo me contaram, o meu avô Pulido, que era professor de Medicina, disse o que devia com a devida brutalidade.
Os meus pais não romperam abruptamente com o partido. Como costumava suceder, o "afastamento" (uma palavra típica da Igreja) foi gradual. Tiveram as suas querelas políticas com o "controleiro" e discutiram com emissários da clandestinidade questões doutrinais. Cândida Ventura, por exemplo, ficava noites, se não a explicar, a justificar os desvarios da seita. Enquanto ela fumava cigarros russos (palavra de honra), a incomodidade dos meus pais crescia. Pouco a pouco, entraram num pequeno círculo de cépticos, que desconfiava da obediência estrita à "linha do partido". E, com o tempo, atrás da desconfiança veio o desprezo. Os santificados militantes da véspera desceram ao estatuto (aliás, realista) de gente ignorante e fanática; e os comunistas da legalidade, que fielmente seguiam a "orientação correcta", receberam o nome irrisório de "batatulinas" (suponho que por analogia com "batatudo", isto é, grosso, arredondado, em suma, estúpido).
Embora preso, "o Álvaro", como herói, morreu de facto nessa época e foi enterrado com as revelações de Khrushchev ao XX Congresso do Partido Comunista Russo, que apareceram logo lá em casa, em tradução francesa. Não se falava dele e, quando se falava, era para o lamentar. A fuga de Peniche e o Rumo à Vitória pertenceram já à história de Cunhal. O meu pai ainda leu (na "edição" da clandestinidade) o Rumo à Vitória, que declarou um "disparate". A minha mãe nem isso.Houve, no entanto, uma despedida. A minha mãe foi ao aeroporto ver "o Álvaro", quando ele voltou a Portugal depois do "25 de Abril" e achou, não sei porquê, que ele estava mais magro.